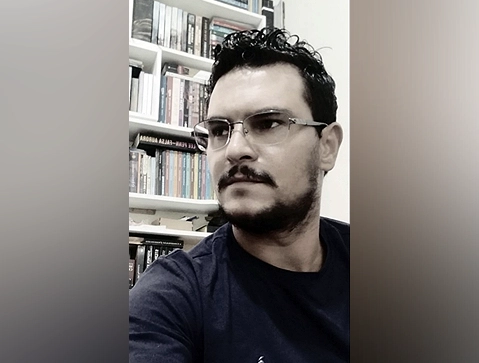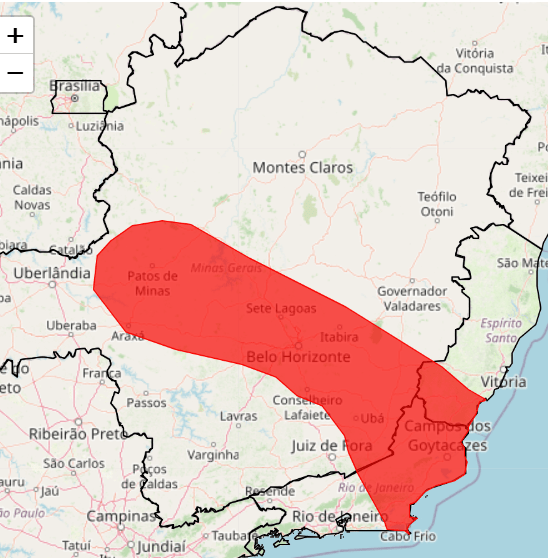A Paternidade Como Espelho de Nós Mesmos
“E há questões enraizadas demais no nosso eu,
E há bastões que a gente passa pra frente
Involuntariamente;
Quando nota, é tarde — um inocente já sofreu.”
— Rashid, Conversas que Nunca Tivemos
Vivemos em tempos nos quais a reflexão sobre nossos próprios passos se tornou quase inevitável, especialmente quando nos vemos diante da responsabilidade de formar alguém para o futuro. Há um instante curioso na paternidade — aquele em que o olhar que lançamos aos nossos filhos acende, por reflexo, uma luz sobre o adolescente que fomos. E, nesse cruzamento de tempos, começam a brotar culpas, comparações, expectativas e uma espécie de julgamento retroativo da nossa própria história. Basta pensar na pré-adolescência ou na adolescência deles para perceber que, sem querer, revisitamos as nossas. A paternidade, e acredito que a maternidade também, como poucas experiências humanas, tem o poder de reacender memórias antigas, muitas delas adormecidas, fazendo-nos revisitar decisões passadas à luz das preocupações do presente. E é precisamente nesses momentos que aflora um tipo particular de cobrança: não a que vem do mundo, mas a que vem de nós mesmos.
Outro dia, eu estava conversando com uma amiga sobre o futuro que espera pelas crianças de hoje e também sobre o momento em que essas crianças irão começar a desejar o mundo, deixando os pais e cuidadores. Expressei o meu medo e minha preocupação para com o dia em que meu filho, hoje com quase três anos, também desejará isso. Ao pensar em meu filho caminhando rumo à pré-adolescência e à adolescência, sou tomado por um receio silencioso. Não é medo irracional; é a consciência de que o mundo exerce um fascínio sobre os jovens, o mesmo fascínio que exerceu sobre mim. Não um medo paralisante, mas aquele receio típico de pai que já conheceu o mundo, que já tropeçou na vida, que já fez escolhas duvidosas. E é estranho, pois, ao mesmo tempo em que reconheço o valor da liberdade que tive, me vejo desejando que ele não queira tanto assim conhecer o mundo.
É curioso perceber como, ao olhar para ele, surge em mim um desejo quase contraditório: que ele escolha permanecer mais em casa, mais próximo de nós, mais protegido desse mundo que insiste em chamar tão alto. Mas esse desejo, por mais legítimo que seja, me faz recordar imediatamente que meus pais, em sua simplicidade e em seu silêncio, muito provavelmente também desejavam o mesmo de mim.
É nesse instante que a autocobrança aparece — não aquela racionalizada e analisável, mas a emocional, a que nasce do afeto. Começo a pensar que talvez eu devesse ter ficado mais tempo com meus pais, que deveria ter ouvido mais, participado mais, estado mais presente. E essa cobrança, como uma sombra persistente, não se limita à adolescência. Ela retrocede até a infância, quando eu passava o dia nas ruas, brincando, correndo, vivendo intensamente aquilo que hoje chamamos “liberdade”, mas que, aos olhos dos meus pais, provavelmente era apenas mais uma preocupação.
Quando comecei a ler, passei mais tempo em casa, mas sempre recolhido num canto, mergulhado em livros. E, ao relembrar esses momentos, esse pensamento insiste em retornar: será que, mesmo ali, eu não deveria ter estado mais “presente”? Era presença física com ausência simbólica. E, ainda assim, me culpo. É como se todo o meu passado fosse revisitado com um sentimento tardio de “eu poderia ter sido mais presente”. É impressionante como criamos, sem perceber, pequenas narrativas que nos julgam com severidade maior do que qualquer tribunal humano. E talvez esse seja o ponto cego da paternidade: a tendência de revisitar a própria história com critérios que não tínhamos como compreender naquela época, mas que hoje usamos contra nós mesmos. Entretanto, é justamente nesse ponto que a razão precisa assumir as rédeas, pois nos cobrar por não ter correspondido a expectativas que talvez nem tenham existido é fruto mais da emoção e do sentimentalismo do que da lógica. Fazemos isso porque paternidade e culpa caminham juntas. Não a culpa de ter errado, mas a culpa de não saber como acertar da melhor forma possível.
No final de cada reflexão, depois que a emoção tenta me levar por caminhos de culpa, eu sempre me vejo repetindo a mesma frase — simples, mas carregada de verdade:
“Não, meus pais não iriam querer que eu tivesse ficado mais tempo dentro de casa com eles.”
Eles queriam que eu crescesse. Que eu aprendesse. Que eu encontrasse meu próprio lugar no mundo — ainda que esse lugar, às vezes, fosse um livro aberto num canto. Se hoje desejo que o meu filho permaneça mais perto, isso não nasce de uma falta, mas de um amor amadurecido, consciente e responsável.
A paternidade me mostra, com clareza, que cada geração educa com a luz que possui. E talvez a tarefa, agora, não seja tentar corrigir o passado, mas fazer do presente um espaço onde a liberdade e o afeto coexistam. Onde possamos orientar sem aprisionar, amar sem sufocar, ensinar sem projetar no futuro deles as culpas do nosso passado.
Que a culpa emocional se transforme em consciência racional; e que a consciência racional se transforme em responsabilidade amorosa. Assim, estaremos não apenas honrando nossos pais, mas formando nossos filhos para que caminhem pelo mundo sem carregar pesos que não lhes pertencem — nem os nossos.
E talvez seja isso que finalmente nos liberta: perceber que a paternidade não exige que resgatemos o passado, mas que construamos, com responsabilidade e ternura, um futuro que faça sentido para eles — e não para as culpas que ainda possamos carregar.