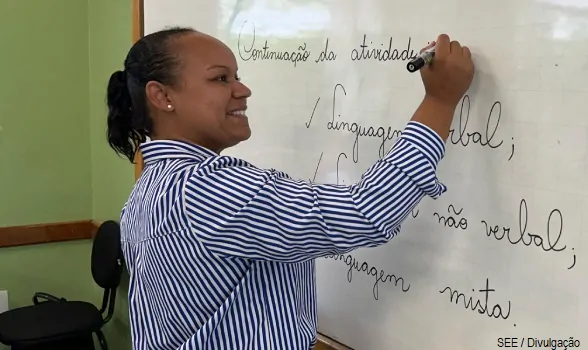O que estamos assistindo neste momento, tanto no Rio de Janeiro quanto em outras grandes cidades brasileiras, é um processo de consolidação e sofisticação do crime organizado, que deixou de ser apenas uma questão policial para se tornar um fenômeno social, político e econômico. É o poder das sombras. A verdade é que o tráfico e as milícias transformaram o crime em negócio e domínio social.
As operações policiais dividem opiniões. A disputa por territórios e serviços revela uma engrenagem criminosa que vai além da venda de drogas — e expõe o vazio deixado pelo Estado nas comunidades.
As recentes operações de combate às facções e milícias reacenderam o debate público. Para uns, representam o esforço legítimo do Estado em retomar territórios; para outros, simbolizam a falência de políticas públicas que apostam na repressão em vez da prevenção.
É lamentável que o nosso país esteja vivendo uma fase crítica na relação entre crime, Estado e sociedade, e o que se observa nas ruas e nas estatísticas é mais do que o aumento da violência: é o amadurecimento de uma economia paralela do crime, que se estrutura, se organiza e ocupa os espaços deixados pela ausência do poder público.
No Rio de Janeiro, o avanço simultâneo de facções do tráfico e grupos milicianos revela uma nova configuração do poder local. Esses grupos não se limitam mais à venda de drogas: agora exercem funções típicas de um Estado paralelo, cobrando taxas, oferecendo serviços e impondo regras sociais dentro das comunidades.
-x-
Para entendermos melhor como tudo isso aconteceu no Rio de Janeiro, convidamos o professor e sociólogo Dr. Rogério, morador da cidade há mais de 50 anos. Ele nos ajuda a compreender como as milícias se espalharam pelo estado e, gradualmente, exportaram seu modelo para outras partes do Brasil e do mundo. Solicitei ao meu editor, José Horta, do Diário de Caratinga, que elaborasse as questões, as quais foram enviadas ao professor Rogério.
Vejamos:
Como o tráfico de drogas no Rio de Janeiro chegou a esse nível de estrutura e domínio territorial, a ponto de desafiar o próprio Estado?
Gostaria, inicialmente, ressaltar que as minhas respostas serão entorno na minha visão e compreensão enquanto sociólogo e morador do Rio de Janeiro há 57 anos. Não pretendo falar como um especialista em segurança pública.
A estrutura que observamos no Rio de Janeiro, denominada como “Comandos”, vem desde a década de 1980. Em larga medida, sua expansão acompanhou o aumento da favelização e o surgimento dos “Complexos de Favelas”, ou seja, à medida que a cidade se ‘favelizava’, aumentando o abismo entre a população trabalhadora e pobre e a classe média e a classe abastada, um espaço, vácuo de poder foi sendo estabelecido nesses espaços de favela. Outro ponto importante a ser destacado foi a democratização da cocaína através do seu barateamento (por conta das misturas) e uma organização de recebimento e redistribuição ao longo dos anos 2000 em diante. A cocaína deixou de ser uma droga da elite para fazer parte da classe média e, da população pobre e moradora de favela.
O aumento da lucratividade fez com que facções iniciassem, num estilo perverso de tomada de mercado, uma disputa territorial e para isso, um aumento acentuado na compra de armamentos, cada vez mais letal, gerando uma espiral de conflitos, tanto com facções rivais como também, com o poder repressor do Estado.
Em que momento o tráfico deixou de ser apenas uma atividade ligada à venda de drogas e passou a diversificar seus negócios, controlando pontos de venda de gás, serviços de TV a cabo e internet nas comunidades?
Bem, essa prática não começa como tráfico ou com as facções criminosas. Essa prática tem o seu início, pelo que constam em documentos e relatórios sobre segurança pública, com uma outra prática criminosa denominada de milícias. E, a partir da lucratividade vinculada a esses tipos de serviços, despertou o interesse pelas facções ou comandos ligados, anteriormente, com o tráfico de drogas.
Essa expansão econômica do tráfico indica uma ausência prolongada do Estado nessas regiões? Onde, exatamente, o poder público falhou?
Evidentemente. Não se deve esquecer que tráfico de drogas é negócio. Gera empregos e movimenta uma cadeia econômica produtiva, que vai desde as regiões produtoras, passando pela logística de transporte e distribuição até chegar ao varejo, seu são, na maioria das vezes, os traficantes em comunidade de favelas. A falha está em ignorar, durante décadas, a existência de uma situação de desigualdade social, falta de oportunidades, tanto econômica, como também educacional, nutritiva, esportiva, cultural etc. O público falha ao não inserir as comunidades de favelas e a sua população como citadinos, como sujeitos portadores de direitos.
Que medidas estruturais deveriam ter sido adotadas — e ainda não foram — para impedir que facções criminosas se consolidassem como verdadeiros “governos paralelos”?
São muitas e os desafios são imenso, pois, trata-se de uma questão ideológica e não somente de políticas públicas. É preciso assumir que vivemos uma sociedade desigual. Uma desigualdade estruturada e reeditada a cada governo. É preciso, inicialmente, tratar o tráfico como um ator econômico que não tem o seu núcleo nas comunidades de favelas. Ali, é o varejo. Há uma expressão comum nas investigações sobre fraude financeira: “segue o dinheiro”. Para que o tráfico de drogas e seus agentes tenham armas, essas armas precisam entrar no país, nas cidades etc.
Hoje, o tráfico e as milícias se confundem em muitos territórios. Ainda é possível distinguir claramente as duas forças ou elas passaram a atuar de forma semelhante, disputando as mesmas fontes de renda?
Na minha opinião não há mais como distinguir quanto aos objetivos de cada um dos segmentos. Talvez em suas práticas, mas ambos, tem o mesmo objetivo. Dominar o território pela força. Oprimir e submeter os moradores as suas vontades e impedir o crescimento dos rivais.
Qual é o papel das milícias no atual cenário do crime organizado no Rio de Janeiro? Elas representam um novo estágio dessa criminalidade ou uma mutação do mesmo fenômeno?
Já houve uma diferença. Hoje, acredito estarem atuando dentro da mesma lógica.
O exemplo da Itália, que enfrentou a máfia “seguindo o dinheiro” e desestruturando seus fluxos financeiros, pode ser aplicado ao Brasil? Que adaptações seriam necessárias à nossa realidade?
Como falei anteriormente. Acredito ser esse o caminho. Atrelado a uma política pública integrativa no que diz respeito à dignidade da pessoa e mitigação das desigualdades sociais.
A quem, de fato, interessa a permanência desse modelo de poder paralelo — políticos locais, agentes do Estado, empresários? Há conivência institucional com o crime organizado?
Todo poder para se perpetuar necessita de capilaridade, se embrear em várias instancias do poder constituído. Sem isso, não há como se manter e crescer. Dito de outra forma, há interesses difusos e complexos, mas, de alguma forma, passam por vários segmentos da nossa sociedade.
Como o senhor avalia o uso das Forças Armadas em operações de Garantia da Lei e da Ordem (GLO). Poderia explicar, na prática, o que é esse instrumento, quando ele deve ser utilizado e quais os riscos de sua banalização em ações de segurança pública?
Radicalmente contra. Não é função das Forças Armadas o poder de polícia. O poder estatal já possou instâncias policiais equipadas e gabaritadas para lidar com isso. Falta, talvez, vontade política. Uma estratégia de colaboração entre comando das forças policiais e o uso de inteligência investigativa que mitigue o uso excessivo da letalidade.
O sistema penitenciário brasileiro, especialmente no Rio, é parte da solução ou da reprodução do problema? As prisões hoje ajudam a enfraquecer ou a fortalecer as facções?
Prisões no Brasil são depósito de gente. Ociosidade atrelada a um descaso quanto a um programa de recuperação integrativa. Não saberia opinar qual o que meio melhorar esse ponto, mas o certo é, não deu certo o sistema de aprisionamento em massa. Nem aqui, nem nos EUA, na França ou em outro país que tenha como política pública de segurança o aprisionamento em massa da população mais pobre e vulnerável. Para isso indico o livro de Loïc Wacquant, “As prisões da miséria” e “Punidos e mal pagos”, este no Nilo Batista.
Operações policiais de grande escala, como esta, costumam gerar debates intensos sobre segurança pública e direitos humanos. Há um caminho possível que concilie o combate ao crime com o respeito à vida e à lei?
Sim, vontade política e envolvimento da sociedade nas discussões sobre política pública.
A polarização política no Brasil influenciou o modo como essa operação foi conduzida e recebida pela opinião pública? De que forma o debate ideológico — entre discursos de “lei e ordem” e críticas por violações de direitos — impacta a eficácia real das políticas de segurança?
Com certeza. Não digo somente a polarização política. A divergência de ideias é imperativa em uma democracia. O que vemos, no entanto, é um tipo específico de visão de mundo, que ignora a existência do outro pelo simples fato dele ser diferente, pensar diferente, ter uma crença diferente etc. O que estamos assistindo e isso acredito estar sendo um retrocesso em relação a nossa democracia é um modelo político cínico e intolerante. Cínicos no trato das ideias (falam uma coisa, mas, fazem outras) e, perversos na prática (pois buscam a eliminação moral e física do outro que pensa diferente). Isso na minha visão, se iguala ao fascismo.
Que tipo de efeito operações dessa magnitude produzem, na prática — tanto sobre o poder real das facções e milícias quanto sobre a percepção da população nas comunidades e da sociedade em geral? Elas desarticulam de fato o crime organizado ou apenas provocam uma reorganização temporária das forças locais?
Na prática, só trazem dor para as famílias das pessoas que foram mortas. Um custo operacional enorme e um resultado aquém em relação ao que foi empregado. Uma cidade parou por conta dessa operação. Gerou pânico e apreensão em grande parte da população, principalmente a trabalhadora e trabalhador, moradores de comunidade de favela. Essas operações só matam gente. O efeito prático, na engrenagem do comércio de tráfico de drogas é praticamente zero. No que diz respeito à percepção da população que mora em comunidade de favela o que fica, ou melhor, o ratifica e permanência da manutenção de uma política de segurança pública excludente, violenta e desigual.
-x-
Após essa brilhante explicação e o vasto conhecimento do professor Rogério, podemos concluir que o fenômeno das milícias tem raízes profundas na desigualdade social e na ausência histórica do Estado nas periferias — mas também na conivência de setores privilegiados que se beneficiaram economicamente do esquema. A milícia nasceu como um discurso de proteção em áreas pobres, mas logo se transformou em um negócio altamente lucrativo, que atraiu pessoas com poder político e financeiro.
A convivência cotidiana com grupos armados gera um fenômeno de normalização da violência. O medo e a insegurança tornam-se parte da rotina, e o Estado, ausente, perde legitimidade. Enfrentar o crime exige inteligência, políticas sociais e presença institucional contínua — não apenas incursões armadas.
O desafio é reconstruir a confiança social e restabelecer o Estado nos territórios esquecidos, com educação, emprego e dignidade. Sem isso, o poder continuará nas sombras, e o crime seguirá governando onde o Estado falhou em permanecer.
Agradeço ao professor Dr. Rogério por sua valiosa colaboração com esta coluna e, consequentemente, com o nosso Diário de Caratinga.
Sou grata também ao meu editor, José Horta, pela constante disponibilidade e parceria na construção dos textos que compartilho com os leitores — textos que nascem das minhas curiosidades, inquietações e do desejo de compreender melhor este mundo tão deturpado em que vivemos.
E ainda ressalto que, mais do que uma questão de segurança, o que está em jogo é a capacidade do Estado de compreender e enfrentar um poder que se tornou complexo, lucrativo e profundamente enraizado nas estruturas sociais.
Enquanto as milícias e facções adaptam-se com rapidez, reinventam suas fontes de lucro e expandem sua influência, o Estado ainda parece agir de forma reativa, fragmentada e tardia.
Fica a reflexão: afinal, quem tem sido mais inteligente em suas estratégias — as milícias ou o Estado?
PAZ E BEM!